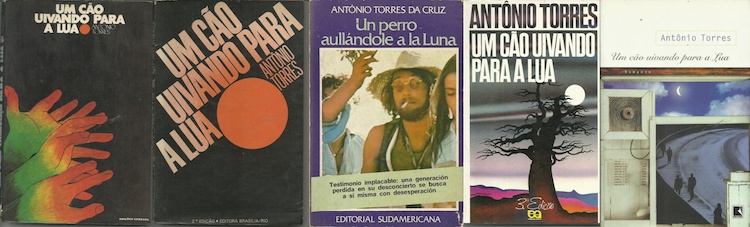Prefácio do autor.
Ou:
Como uivar para a Lua numa noite sem a menor possibilidade de estrelas
“Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela
loucura, morrendo de fome, histéricos, nus,
arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada
em busca de uma dose violenta de qualquer coisa…”
Allen Ginsberg/ Uivo – na tradução de Cláudio Willer/ LPM Pocket, 2001
Para começar, eu ainda não tinha lido o poema de Allen Ginsberg,
que só caiu nas minhas mãos em 1973, numa viagem a Lisboa, um ano
depois da publicação dos meus próprios uivos. Foi o poeta português
Alexandre O´Neill quem me presenteou com o livro do Ginsberg que, na
edição portuguesa, se não me falha a memória, começava assim: “Eu vi
as melhores cabeças da minha geração destruídas pela loucura…”
Era um libelo da Geração Beat dos anos 50 – que incluía Jack
Kerouac, William Bouroughs, Lawrence Ferlinghetti etc -, e da
contracultura e rebeliões juvenis dos anos 60 e 70. O impressionante era
que neste lado do paraíso, aqui nos subúrbios da América,
estivéssemos vivendo a mesma inquietante atmosfera. Mas no tempo em
que escrevi este Um Cão Uivando para a Lua – um tempo vivido entre São
Paulo e o Rio de Janeiro, depois de andanças por Oropa, França e
Bahia -, os meus autores preferidos eram outros, das Américas (a
começar pelos brasileiros obrigatórios) e do mundo. E, onde quer que
estivesse, sempre tinha à cabeceira um livro de Scott Fitzgerald, o que
dizia: “Numa noite escura da alma são sempre três horas da manhã.” O
que morreu dizendo: “O progresso é o desencanto contínuo.”
Vivíamos uma era de progresso – a Transamazônica, a ponte
Rio-Niterói, Itaipu, o BNH, o boom imobiliário, o DDD e o DDI, PNBs
fantásticos, as fachadas da ditadura militar. Em seus porões os
descontentes, ou dissidentes, uivavam até a morte, se não fossem
resgatados antes no rabo de um foguete para o exílio.
Nas selvas de pedra a classe média achava que finalmente havia
chegado ao paraíso, enquanto seus rebentos exilavam-se num quarto, se
entupindo de LSD ao som de Jimmy Hendrix e Janis Joplin, até a
loucura.
Como todo mundo à minha volta, também ouvia os sons de uns e
outros: Chico Buarque, Caetano & Gil, Vincius de Moraes e Tom Jobim,
Milton Nascimento, Zé Kéti, Paulinho da Viola, Baden Powell – “todos
os violões havidos e a haver,” na definição magistral do já citado
poeta português Alexandre O´Neill -, e todo o resto do pessoal, que
incluía o teatro do Zé Celso Martinez Correia, e o de Boal, Guarniéri e
Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, de Plínio Marcos etc, e o cinema de
Nelson Pereira dos Santos, Gláuber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade
etc, etc, etc, ah, meninos, era uma era de arte, na contra-mão do
enquadramento da ordem & progresso: censura, prisões, tortura,
desaparecimentos, mortes, nunca é demais lembrar.
Um Cão Uivando para a Lua é desse tempo e lugar. O título me veio
numa noite escura, em São Paulo, quando num quartinho de um hotel
barato na Alameda Barão de Limeira, eu ouvia o tempo todo Miles Davis
tocando sem parar My funny Valentine, uma terna canção americana, do
dia dos namorados, que aquele trompetista, um gigante do jazz,
transformara num lamento lancinante. Como os uivos vindos lá do fundo
dos quartéis e dos manicômios, num dos quais eu havia visitado um
amigo, que tinha a cabeça raspada e espumava loucamente. Já não se
entupia de LSD, mas com as drogas que os médicos lhe davam, para
acalmá-lo – e que o deixavam muito excitado. Foi aí que me veio uma
idéia para um conto: um doido batendo papo consigo mesmo. Como parecia
ser o de Miles Davis com o seu trompete. Oito meses depois tinha um
romance nas mãos.
Bem, já havia entrado na casa dos trinta e finalmente o meu teclado
engrenava. Até então vivia começando histórias que nunca passavam da
segunda página. Isso me desesperava, me dava uma horrível sensação de
fracasso. E de repente, como num milagre, já tinha ido além da terceira.
Que maravilha. Como vivia ganhando e perdendo emprego no eixo Rio-São
Paulo, coincidiu que por aqueles dias dei com os costados numa
agência de publicidade carioca, onde fui contratado como redator.
Entre um anúncio e outro, descubro que o gerente da empresa era um
poeta, chamado Celso Japiassú, que me presenteou com um dos seus
livros – e já não me lembro o que motivou tal gesto. Na verdade,
naquele tempo havia até publicitários que gostavam de ler e escrever e
acabamos por ter assunto para dois dedos de prosa depois do
expediente. Acabei criando coragem para mostrar-lhe as minhas
primeiras páginas. No dia seguinte fui chamado, pelo telefone interno,
para ir à sua sala. Para minha surpresa, não se tratava de uma ordem
de serviço, “uma campanha para ontem.”
— Você pode até nem saber que é um escritor – começou ele, tendo
entre as mãos as páginas que eu havia lhe passado no dia anterior. Por
uma questão de pudor, deixo a frase em suspenso, sem completar com o
que ele disse a seguir. Mas não posso deixar de dizer que o primeiro
leitor das primeiras mal-traçadas linhas deste meu primeiro livro me
encorajou muito, muitíssimo, para ir em frente. Velho Japi: nunca será
tarde demais para te dizer “Muito obrigado.” Sei que andas por aí a
capitanear novos negócios e, espero, a escrever poemas de boa fatura
literária, na calada da noite, como antigamente.
O livro iria ser lido com entusiasmo também por um pequeno editor, o
Lúcio de Abreu, que me disse: “Isto tem cheiro de sucesso.” Só que no
meio do caminho – já com os originais na gráfica -, ele iria revelar
suas dificuldades financeiras, naquele momento, para produzi-lo. Foi
uma confissão desesperadora. Olha eu de novo uivando para a Lua. O que
fazer?
Foi aí que entrou em ação uma verdadeira corrente da solidariedade
para que este livro viesse a ser publicado, liderada por um colega do
departamento de criação da finada Denison Propaganda, chamado José
Monserrat Filho, atualmente editor do Jornal da Ciência, da SBPC, e
até hoje um amigo de fé. Ele arregimentou um mutirão: o produtor
gráfico da Agência, o saudoso Bilé, que iria conseguir gratuitamente o
fotolito da capa, que foi criada de mão beijada por um talentoso
diretor de arte, o Cláudio Sendin. Carlos Estevão de Souza Filho fez a
foto da contra-capa, que teve layout de Joaquim Pêcego, o velho Pá. A
produção do livro acabou se tornando uma ação entre colegas de
trabalho – não dá para esquecer aqui a extrema boa vontade de outros
ali, como Aldyr Nunes e Federico Spitale -, que deram a sua
contribuição pessoal para aliviar os custos e viabilizar a edição do
livro. Celso Japiassú, o entusiasmado leitor da primeira hora,
escreveu a orelha. E assim este Um Cão Uivando para a Lua foi embalado
para as livrarias, no dia 14 de novembro de 1972, vindo a merecer
também a solidariedade da crítica, dos leitores, dos escritores.
E estes se manifestavam através de cartas, ou por telefone. Nomes
consagrados – como Jorge Amado, Marques Rebelo, José Américo de
Almeida, Osman Lins e o português José Cardoso Pires – brindaram o
estreante com calorosas palavras de incentivo. É preciso dizer que até
então o autor destas linhas não conhecia pessoalmente aqueles
escritores. Minhas – poucas – relações eram com outros. Numa curta
temporada no Jornal da Bahia, trabalhara com Ariovaldo Matos e João
Carlos Teixeira Gomes e, na Última Hora de São Paulo, com Ignácio de
Loyola Brandão, que num começo de tarde, antes da zorra começar na
Redação, me mostrou as páginas de um livro que estava escrevendo, o
Depois do Sol. Naqueles primeiros tempos de São Paulo cheguei a
conhecer Marcos Rey, já um autor de best-sellers e um excelente
sujeito, que sempre me recebia em sua casa de copo na mão, enquanto a
sua mulher, a doce Palma, se apressava em preparar um rango; e João
Antônio, que me impressionara vivamente com o seu Malagueta, Perus e
Bacanaço, e com quem havia perambulado uma vez pela noite paulistana, de
‘pé sujo’ em ‘pé sujo’, até o último bêbado olhar para o céu e
gritar: “Não há possibilidade de estrelas!”
Mas agora eu iria saber quem eram os outros. Da Manaus de Márcio
Souza à Porto Alegre de Moacyr Scliar, do Recife de Hermilo Borba
Filho à Ituiutaba de Luiz Vilela, da Bahia de João Ubaldo ao Paraná de
Domingos Pellegrini Júnior, eles formavam um bando, com uma enorme
concentração em Minas Gerais – Murilo Rubião, Wander Piroli, Sérgio
Sant`Anna, Oswaldo França Jr., Roberto Drummond etc – e no Rio de
Janeiro: não tardou muito para o escriba aqui estar sendo recebido por
Ana Arruda e Antônio Callado – aquele lorde que tanta falta nos faz
-, e Nélida Piñon, em cuja mesa cabia sempre a verve de Rubem Fonseca.
Ah, Rubem Nosso Bem, quando vamos voltar a dar umas boas risadas?
Agregadores era o que não faltava. Como o casal Laura e Cícero Sandroni,
com suas feijoadas concorridíssimas, nas quais Antônio Houaiss, José
J. Veiga, José Louzeiro, Marcos Santarrita, Edilberto Coutinho, Eglê
Malheiros e Salim Miguel, entre tantos, tinham cadeira cativa. Em São
Paulo, as casas de Ivan Ângelo, Moacir Amâncio e Edla van Steen
estavam sempre de portas abertas para outros. Numa volta lá, acabei
conhecendo o Raduan Nassar. E ficamos amigos para sempre. Parecia que
todo mundo seguia ao pé da letra os versos de Carlos Drummond de
Andrade: “Como viver sem conviver/ na praça de convites?”
Depois alguns de nós – como o Loyola, o João Antônio, este aqui e
muitos mais – ganhamos a estrada, falando em tudo quanto era canto
deste imenso e mal administrado País, com a polícia sempre atenta ao que
falávamos. Pelo caminho, fomos envelhecendo, alguns morrendo e vieram
outros e já não era mais a mesma história. Mas nunca me esqueci do
que uma vez me disse a adorável e inteligentíssima Nélida Piñon: “Toda
essa camaradagem um dia vai acabar. Quando o tal do mercado fizer as
suas escolhas.” Não deu outra.
Bom, valha o que valer o relançamento deste livro agora, não
poderia deixar de dedicá-lo, ainda uma vez mais, a Sonia Torres, que
não só o viu nascer – antes de nossos filhos Gabriel e Tiago – mas
também resiste ao meu lado, com sua solidariedade incondicional, por
toda uma vida feita de bons e maus momentos.
Tanto quanto consigno aqui os meus agradecimentos à minha agente
literária Marisa Gandelman e à Editora Record, que vem reunindo todos
os meus cacos deixados pelas estradas para com eles compor um belo
mosaico. Sérgio e Sônia Machado, Luciana Villas-Boas e Ana Paula Costa:
segurem aí o meu abraço.
Se este esforço editorial valerá a pena, é com você, caro leitor.