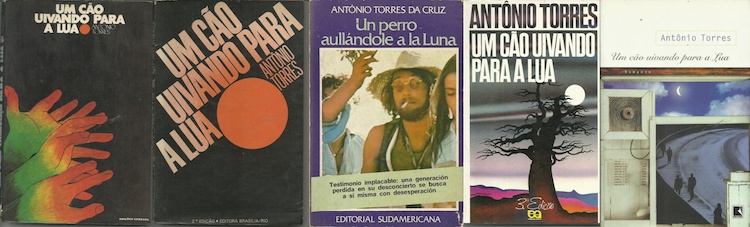Aula Inaugural do Instituto de Letras da UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 28/03/2000
Queridos calouros:
Vocês estão chegando à universidade no ano em que o mundo ia acabar. Para a sorte de nós todos, as profecias não se cumpriram, embora algumas vezes me baixe a sensação de que este velho mundo já acabou mesmo e eu próprio não seja mais do que um zumbi martirizado do tempo, a contemplar na linha do horizonte a fumaça do grande incêndio anunciado desde a minha infância, quando, ao pôr-do-sol de cada dia, os homens guardavam as suas enxadas, para pitar um cigarro de palha e filosofar diante do crepúsculo. A vermelhidão do céu era sempre motivo de reflexões sobre o fim do mundo que, na crença de todo um povo, não passaria do ano dois mil. Imaginem o que é alguém ter se criado num cenário como este, onde todo dia era o dia do crepúsculo do mundo. Ou ia ficar doido, ou se tornar um romancista.
Numa carta datada de dois de julho de 1991, que guardo até hoje, o jornalista e escritor Geneton Moraes Neto relata o seguinte: “O sol uma vez parecia que ia pegar fogo de verdade no céu de uma cidade do interior, num final de tarde da minha infância. Minha mãe me dizia que aquilo podia ser o fim do mundo. O céu nunca tinha ficado tão vermelho. Fiquei esperando, naquele fim de tarde, o incêndio que nunca começou. Se eu fosse escrever um conto para jogar no fundo da gaveta, diria que a vida não pode ser um incêndio adiado. É melhor que o céu pegue fogo logo.”
Não é difícil compreendermos a angústia de uma criança diante dessa espera, a espera do fim do mundo, que o Geneton tão bem evocou naquela carta. Nossos pais creditavam-na ao lendário Antônio Conselheiro, aquele que liderou o movimento messiânico que culminou com a Guerra de Canudos, na Bahia, de 1896 a 1897, não por acaso chamada de “a guerra do fim do mundo.” Na verdade a profecia vem das Escrituras, na advertência de Deus a Noé, depois do dilúvio. Assim está escrito: “E Deus concedeu a Noé o sinal do arco-íris; não mais a água – da próxima vez, o fogo.”
Nos anos sessenta um escritor norte-americano chamado James Baldwin, tão admirável quanto duplamente discriminado, por ser negro e homossexual, transformou o versículo bíblico sobre o fim do mundo num libelo impressionante contra o racismo, ao escrever um livro intitulado”Da próxima vez, o fogo,” que virou best-seller e se tornou um documento importante para os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos. E aqui já começamos a trazer a questão para o nosso campo – o das letras. Para propor uma releitura da história do fim do mundo que não houve. Como metáfora.
Tragamos o fogo para dentro de nós mesmos, como o James Baldwin o levou às consciências norte-americanas. Para incendiar o mundo – de idéias, arte e beleza. E esse é que é o incêndio que não pode ser adiado.
Agora, fim de mundo mesmo é morrer de sede na terra de Canaã.
É importar feijão numa terra onde, em se plantando, “nela dar-se-á tudo.”
São as desigualdades gritantes que se escancaram diante de nós.
É todo esse quadro deplorável de injustiças, crianças sem escolas, pais sem emprego, etc etc, etc, corrupções, impunidades, a geléia geral que a TV Globo anuncia, a nós todos, espectadores impotentes diante de uma realidade de violência ameaçada pelo caos.
Como dizia o finado André Gide, por favor, não me entendam depressa demais. Não é meu propósito aqui tornar-me um panfletário fora de tempo e lugar. Sei. Seria mais palatável oferecer-lhes umas abobrinhas de fácil digestão. Mas aí o espírito do finado Oduvaldo Viana Filho, o nosso Vianinha, aquele cristão que morreu antes da hora, me convoca a uma penosa reflexão: “O brasileiro precisa olhar no olho a tragédia do seu país.” Um caso a pensar, embora eu desconfie, com ou sem razão, que o pensar, hoje, é um assunto fora de moda. Mas venho de um tempo em que as pessoas pensavam. E com arte e beleza. Como o Gilberto Gil, por exemplo, quando cantava coisas assim: “Eu, brasileiro, confesso/ minha culpa, meu degredo/ meu sonho desesperado/meu irrevelado segredo/ Isto aqui é o fim do mundo/ isto aqui é o fim do mundo…/ Pão seco de cada dia/ tropical melancolia… Isto aqui é o fim do mundo/ isto aqui é o fim do mundo…”
Enquanto penso que já não mais pensamos, eis que chega um poeta do Ceará, chamado Adriano Espínola, e me entrega um poema que é um primor de síntese, intitulado “Avenida Brasil”. É, Avenida Brasil. E é assim: “Atenção, devagar: / assalto à mão armada/ a 100 m. / Atenção, não olhe: / espancamento e estupro/ a 200 m./ Atenção, não se abale: / assassinato e roubo / há 500 anos.”
Agora chegamos a outro fim de mundo: a comemoração destes 500 anos. Afinal, o que temos a comemorar? O extermínio, a cada século, de um milhão de indígenas, o povo que estava aqui quando os brancos chegaram? A escravidão dos negros, apanhados a laço em suas terras e trazidos debaixo de chicote, nos famigerados navios negreiros? A fúria extrativista dos invasores, a expropiar a flora, a fauna e o solo? Não. A conquista e colonização dessa terra não foram feitas com rosas, sabemos todos. Mas com cobiça, violência e sangue.
Ora, se até os vice-reis do Rio de Janeiro, que governaram o país de 1763 a 1808, ficavam horrorizados com a escória que encontraram aqui, por que nós também não vamos nos horrorizar, hoje, ao lermos os relatos deles à corte portuguesa? Nesses relatos, eles diziam que os homens que cá estavam não vieram para construir um país, mas para se enriquecerem o mais depressa possível – nem que para isso tivessem que arrasasar a terra. Podem conferir no livro “O Rio de Janeiro no tempo dos vice-reis”, do extraordinário cronista carioca Luiz Edmundo, autor também de “O Rio de Janeiro no tempo de D. João VI” e “O Rio de Janeiro do meu tempo”, obras que, entre tantas outras, nos levarão a concluir que as bandas podres vêm há muito do tempo, no país dos náufragos, piratas e aventureiros. Qualquer semelhança entre o passado e o presente, não será mera coincidência.
Ainda assim, ou seja, mesmo aos trancos e barrancos, o país se fez. Temos um país, sim, multifacetado, multiracial, multicultural, multitudo, com um potencial humano fantástico, mas ainda atado aos grilhões do seu passado colonial e subjugado, além da conta, creio eu, às reengenharias das novas dominações universais. Quinhentos anos depois do tão comemorado descobrimento, ainda não atingimos os níveis desejáveis na conquista e repasse de conhecimentos, distribuição de riquezas e tudo o mais que vocês sabem por experiência própria. O pior é que podia ser bem pior. Sempre que penso nisso – e estou sempre pensando nisso -, rezo um Pai Nosso e uma Ave-Maria pela boa alma de Napoleão Bonaparte, o que pôs D. João VI para correr, até dar com seus costados nestas bandas, e trazendo toda a corte portuguesa, que aqui, nesta cidade, se instalaria, revertendo o mando, com o Rio de Janeiro passando a ser a sede do poder, e a comandar o império português, na maior revolução administrativa da nossa história.
Se há um personagem dessa história que precisa ser olhado com respeito e, até, alguma ternura, é ele mesmo, o desafortunado D. João VI. Achincalhado no cais de Lisboa, quando até ovo podre lhe jogaram na cara, na sua fuga para o Brasil, ele viria amar verdadeiramente este País. Mas dele só nos lembramos pela beiçola, a feiúra, o seu lado grotesco beirando o ridículo, como o hábito de encher os bolsos com pedaços de frango, e pelos chifres com que a mulher enfeitava-lhe a cabeça, o que era público e notório. Com isso, esquecemos todo o bem que nos fez. Até à sua chegada, o Brasil não produzia sequer um alfinete. Na condição de colônia, dependia de Portugal para tudo. E como Portugal não produzia utilidades que pudessem atender as necessidades além-mar, havia carência de tudo: facas, tesouras, talheres etc. Como vocês sabem, D. João VI chegou à Bahia no dia 22 de janeiro de 1808. Seis dias depois, decretou a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, à Inglaterra. Só que os ingleses se equivocaram na primeira remessa de mercadorias. Por pensarem que isto aqui ficava no Polo Norte, enviaram pesados cobertores e patins para o gelo, que ainda assim foram muito bem recebidos, tal era a carência de tudo. Os patins foram desfeitos e o seu material transformado em facas, garfos, tesouras. E os cobertores enviados para os garimpeiros em Minas Gerais. Ao se instalar no Rio, em lo. de abril de 1808, D. João VI revogou o alvará de 5 de janeiro de 1785, que proibia a instalação de manufaturas no Brasil. E foi aí que o País começou a prosperar de ano para ano, enquanto Portugal entrava em dificuldades. Não custa nada lembrar o mais que ele fez: trouxe os 14 mil livros e documentos, salvos do terremoto de Lisboa, em 1755, e que deram origem à Biblioteca Nacional; trouxe a primeira instituição de ensino superior do País, a Escola Naval, criada por sua mãe, D. Maria I, à semelhança da Escola Naval Britânica; criou o Jardim Botânico e a Escola de Astronomia; elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, em 1815; em 1816, promoveu a vinda da Missão Artística Francesa, de tanta influência na arquitetura da cidade; em 1820, inaugurou a Praça do Comércio, onde hoje é a Casa França Brasil, que deu origem à Associação Comercial do Rio de Janeiro. Aqui, foi aclamado rei, em 1818, quando os comerciantes o saudaram como o libertador do comércio. Ao contrário de sua mulher, que cada vez mais odiava os brasileiros e o traía sem parar, D. João VI sentia-se bem no Rio de Janeiro. Mas Portugal, às voltas com prejuízos políticos e comerciais, exigia o seu regreso. Se ele não retornarsse a Lisboa, perderia o trono. Voltou, embora contrariado, em 1821, deixando o seu filho Pedro como regente. D. João VI morreu em 1826. Envenenado. Morreram também o médico, o cirurgião e o cozinheiro. Para não ficar testemunha. Foi uma queima de arquivo geral.
Grande personagem, esse D. João VI. Seu destino foi de uma teatralidade shakespeareana. Numa crônica comovente, o escritor português Raul Brandão pintou-lhe o seguinte retrato:
“Grotesco, feio, com a existência aos baldões, sem um bocadinho de ternura (a morte leva-lhe todos os amigos), rei ainda por cima, as suas anedotas, a sua vida, a sua figura, são ainda hoje motivo de chacota… E no fundo, sob essa capa ridícula, por baixo da barreira da papeira, da beiça, do olhar desconfiado, havia, houve sem dúvida uma ternura enorme. A mulher traiu-o; os filhos enganaram-no e mentiram-lhe; teve de fugir, de se livrar do veneno, das revoltas, da intriga… Esqueçamos-lhe a carcaça. Já hoje a figura está reduzida à sua verdadeira essência: passaram-lhe de vez as hemorróidas. É um homem simpático que fez neste mundo o bem que pôde. Foi ele quem povoou o mar do Brasil de sardinhas para os pobres comerem com pão. Plantou árvores. Amou – e foi talvez sob o grotesco uma alma delicada. Não seria uma grande inteligência nem um grande caráter – mas passou a vida a afligir-se. Por qualquer lado que encare é um motivo de chacota. É o senhor D. João VI – é o pataco – é o rapé – É a beiça… É – mas é também o melhor homem da sua época, e, sob o grotesco, encontra-se uma grande beleza escondida, sumida, escarnecida…”
Conclusão: se para Portugal a fuga de D. João VI foi o fim do mundo, para o Brasil foi o começo de um país.
Ao pensar nos grandes personagens da nossa História, ouço ao longe um hino da minha infância. Era assim:
“Glória aos homens, heróis desta pátria/ esta terra querida, que é o nosso Brasil…”
O meu herói é o maior de todos: tinha quase dois metros de altura. E seu grito de guerra fazia a terra tremer:
– PERÓS!
Meninos, eu conto: vem aí o grande chefe, trazendo um português amedrontado. E as mulheres da aldeia, muito assanhadas, já estão gritando: – Nossa comida está chegando!
Agora, com vocês, o guerreiro tupinambá Cunhambebe, o meu querido canibal.
Ele se orgulhava de ter nas veias o sangue de mais de cinco mil inimigos, muitos deles portugueses.
Estamos falando do primeiro chefe supremo da Confederação dos Tamoios que, entre os anos de 1554 e 1555, uniu todas as tribos inimigas, de São Vicente a Cabo Frio, na maior organização de resistência aos colonizadores que este país teve. Foi aí que o pau comeu, em combates sem tréguas.
Mas é preciso fazer aqui um esclarecimento: tamoio não foi nome de tribo, como muitos de nós somos levados a pensar. Tamoio significa o mais velho da terra, o mais velho do lugar. Logo, a Confederação dos Tamoios significava Confederação dos nativos.
O grande chefe Cunhambebe tinha um ódio mortal aos portugueses. Tanto, que ele podia ficar uma semana sem comer, se não tivesse um pedaço de carne lusitana para o seu repasto.
Bradava aos quatro ventos que os portugueses eram perós, ou seja, ferozes, traidores, mentirosos e covardes. Ele chamava os portugueses de covardes porque, sempre que apanhava um deles, o gajo se apressava em dizer que era francês, tentando escapar do porrete e de ser devorado. Cunhambebe era o índio amigo dos franceses, que se tornaram aliados dos tamoios, com os quais foram mais diplomáticos. Chegaram aqui para tratar de negócios e não de guerra. E, enquanto permutavam as utilidades da civilização européia – machados, foices, calções, perfumes e até os famosos espelhinhos -, por preciosidades da terra, do pau-brasil às aves e suas vistosas plumagens -, os franceses caíam na farra, enchendo a cara de cauim, a birita dos nativos, e indo às índias. Com tanta filha de Eva à solta, do jeito que Deus as havia posto no mundo, eles ficaram doidinhos. Doidões, melhor dizendo. Muitos deles não iriam voltar à França, nem amarrados.
Já os portugueses tinham outros propósitos. Queriam tomar a terra na marra e escravizar os seus donos. Foi aí que Cunhambebe enfureceu-se. E fez a terra tremer.
E onde ele pisava a terra tremia mesmo. Era um gigante, com uma força e uma coragem descomunais. O Átila da floresta. Exageradão em tudo, em tamanho e vaidade, tinha quatorze mulheres, quando aos outros caciques só eram permitidas quatro. Os franceses o tratavam como rei do Brasil. Tanto que foi hóspede de Villegaignon, o malfadado idealizador da França Antártica, ali na ilha que ainda hoje leva o seu nome, por trinta dias. E com todas as pompas de chefe de Estado. Cunhambebe foi também o primeiro brasileiro a ter a sua estampa publicada na Europa, na Galeria dos Homens Ilustres, do frade franciscano André Thevet, ainda nos anos 500. E o alemão Hans Staden, que foi seu prisioneiro, fez elogios às suas artes militares, chamando-o de chefe supremo. Ele nunca perdeu uma batalha. Mas não morreu de pé, lutando, como achava horrado morrer. Morreu na cama, em 1557, vitimado por uma estranha epidemia, que dizimou mais de trezentos membros da sua tribo. Sua morte provocou desolação e revolta. E sua aldeia, em Angra dos Reis, ficou pequena demais para receber os que compareceram ao seu funeral. Os tupinambás, assim como todos os índios confederados, acharam que a epidemia havia sido trazida pelos brancos, dentro de suas estratégias de guerra para eliminá-los.
O grande chefe Cunhambebe, que levou todo um povo a lutar até o último homem para não se deixar escravizar, não mereceu da História oficial mais do que notas de rodapés ou verbetes mínimos, como este aqui, assinado por um historiador chamado Rocha Pombo:
“Este índio foi o tipo do selvagem na sua expressão mais repelente. Tinha ele uma força e uma estatura e uma corpulência de Cíclope, uma coragem de bruto obsecado, uma dureza e ferocidade de monstro. Em outras condições daria um Átila, talvez ainda mais devastador. Devanecia-se de abalar a terra com o seu tropel. Nunca perdoou a um português.”
Pouco importa, meu querido canibal, a esta altura da peleja, como os tais historiadores o trataram. Sua estampa está no nosso imaginário não como de “um selvagem na sua expressão mais repelente”, mas como do mais temido chefe indígena brasileiro, com grandes brilhos de virtudes por trás da sua brutalidade, como um frade franciscano francês o descreveu. Você inscreveu a sua legenda como o senhor destas águas de sonho e fúria. Um herói da resistência. E de Cunhambebes bem que estamos necessitados.
A Confederação dos Tamoios foi uma utopia nativa que durou cerca de doze anos. Com a morte de Cunhambebe, o seu comando passou às mãos do bravo Aimberê, o cacique da aldeia de Uruçumirim, que ficava por ali onde hoje é o bairro do Flamengo. Foi liquidada em dois dias, 19 e 20 de março de 1567, quando Mém de Sá veio da Bahia, para dar reforço a seu sobrinho Estácio, que foi flechado no rosto e morreu um mês depois. O poder de fogo dos portugueses reduziu os tamoios confederados a cacos. Foi uma carnificina. A vitória levou as tropas de Mem de Sá à loucura. Cortaram as cabeças dos cadávares e as enfiaram nas estacas.
E era uma vez os grandes índios.
A partir daí, os brancos escreveram a história, como os seus legítimos donos.
E os índios foram transformados em alegorias de um carnaval que eles iniciaram em seus rituais canibalísticos. O carnaval que se tornou o maior espetáculo da Terra.
Meus considerados:
Já se disse que ação é personagem.
Que literatura é linguagem.
Que não existe literatura sem História, com H maiúsculo.
Literatura é tudo isso, sim senhores.
Mas é também delírio e indignação.
O primeiro poeta deste país foi um indignado. Chamava-se Bento Teixeira. Era um português do Porto e chegou a Pernambuco, no século XVI, com a idade de seis anos incompletos. Tornou-se um homem livre, boquirroto e debochado. Num certo sentido, e isso pela sua independência e personalidade briguenta, ele não deixa de ser uma espécie de precursor de Gregório de Matos. Foi tido como o primeiro livre-pensador do Brasil e “talvez o indivíduo que maior cultura possuía nas letras, tanto sagradas quanto profanas, em todo o século, em Pernambuco.” Teve ainda a seu crédito a primeira manifestação, em letra de forma, da literatura no Brasil, com a publicação de “Prosopopéia,” um poema heróico em decassílabo. Mas ele era um cristão novo. Foi perseguido, preso e condenado à prisão perpétua, em Lisboa, onde acabou por vir a ser libertado, a 30 de outubro de 1599, “pobre, só, fraco e muito doente.” Sua liberdade, porém, foi condicional: não podia sair de Lisboa. Ou seja: não teve o direito de voltar pra casa, em Pernambuco. Morreu aos 39 anos. E a História o esqueceu. Em 1995, o historiador paraibano Gilberto Vilar fez o que pôde para tirá-lo do esquecimento, ao publicar um livro intitulado O primeiro brasileiro, uma obra admirável, tanto do ponto de vista histórico quanto literário, que a TV Globo comprou para uma minisérie e engavetou. Isso para dizer que a nossa História está cheia de personagens em busca de autores. E para lembrar que as Santas Inquisições foram outro fim de mundo, como o Holocausto, o genocídio dos índios e a escravidão dos negros. Eis aí as quatro chagas do milênio.
Vida que segue, como dizia o finado João Saldanha.
Meus amigos…
Se o mundo ainda não acabou, então vamos ler.
Comecemos pela tumba de Oscar Wilde, no cemitério Père Lachaise, em Paris. Lá está escrito:
“Um mapa mundi que não inclua a Utopia não é digno de consulta, pois deixa de fora as terras onde a Humanidade está sempre aportando. Nelas aportando, sobe à gávea e, se divisa terras melhores, torna a içar velas. O progresso é a concretização de Utopias…” “O passado é o que o homem não deveria ter sido. O presente é o que o homem não deve ser. O futuro é o que os artistas são.” (…) “O Estado deve fazer o que é útil. O indivíduo deve fazer o que é belo.”
Benvindos às letras.