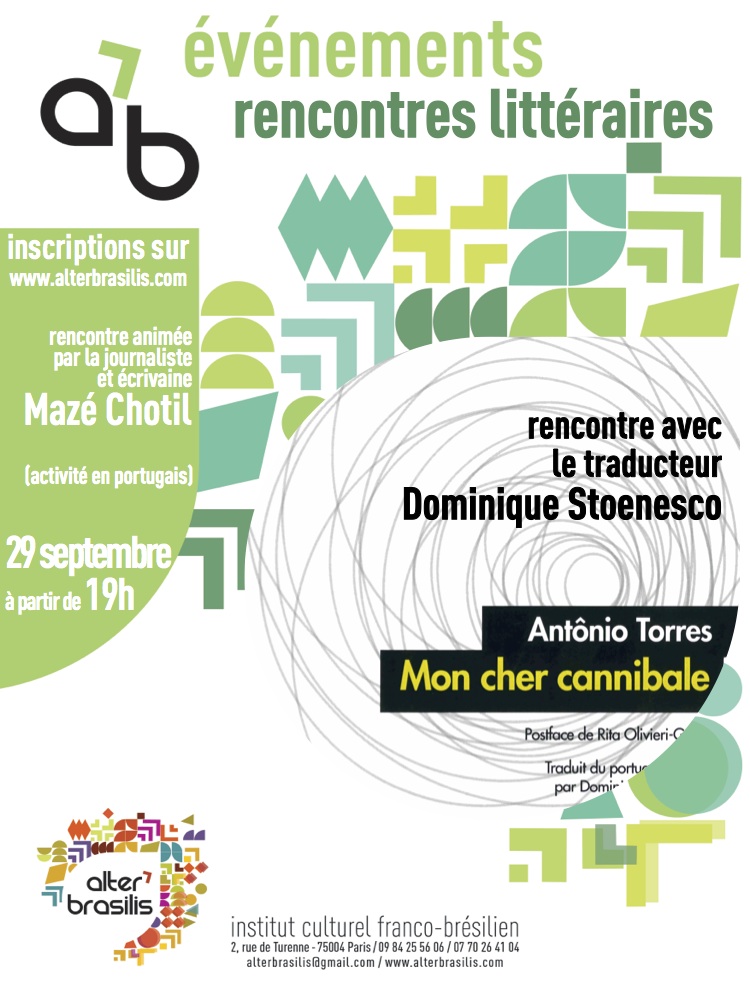Revista Visão, São Paulo, 29/05/1991
Álvaro Alves de Faria
Antônio Torres sabe que as saídas quase não existem mais. Dentro e fora da literatura. Isso constatado, a ironia inteligente pode ser alternativa para driblar as sombras que atravancam os caminhos. Um Táxi para Viena d’Áustria é um romance que sugere exatamente o seguinte: em tempos hilários, a ordem é ser mesmo hilariante. Conta a história de um publicitário desempregado que comete um crime e pega um táxi para fugir. Mas, hora errada: no rush. Ipanema pára. No meio do congestionamento, o fugitivo se detém na Missa em dó maior de Mozart, que candidamente flui do rádio do carro, e inicia uma viagem imaginária, na qual nem tudo é realidade, mas a fantasia está longe de ser apenas um sonho.
O romance se desenvolve com um humor dilacerante. Ladrões assaltam falando de Cervantes, Machado de Assis, Shakespeare. Salvadores da pátria da tribo ipanemense, dourados de sol, apresentam-se para resolver problemas insolúveis: “Cessa tudo enquanto a antiga musa canta, que um valor mais alto se alevanta. Suspirem, gatinhas do meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro. Aleluia! Finalmente um machoman no nosso pedaço ultra light”. A essa linguagem de deboche, Torres liga uma informação fundamental: se o tal herói abrir a boca cantando em inglês, no mais perfeito accent de Nova York, com certeza haverá muito desmaio.
Prova – Baiano nascido na cidade de Junco (hoje Sátiro Dias), Torres começou a ser editado em 1972, meio que desnorteando a crítica com Um cão uivando para a lua. Estava lá, prontíssimo, um grande escritor brasileiro que, a cada novo livro, reafirmaria um raro talento de narrador de histórias cujos personagens estão na realidade das ruas de um país infestado de gratuidades. Com livros publicados na Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina e Israel, Torres já cedeu direitos para tradução de Um táxi para Viena d’Áustria à França e à Alemanha. Esse interesse tem razão de ser, já que sua literatura representa o que de melhor se produz no Brasil atualmente.
Este novo lançamento da Companhia das Letras é prova concreta disso, revelando um país que, apesar da pobreza terceiro-mundista, insiste em existir com seus refrões de esperteza. O personagem que ouve Mozart não quer ser acordado por ninguém. “Meu sonho até tem nome. Chama-se Spiritual’s. Sonhar em inglês dá sorte. Atrai fortuna”, comunica. O livro traz referências a trabalhos anteriores, uma espécie de registro que une toda a obra do autor, num amplo retrato fiel às contradições e dramas nacionais. “Toca pro inferno, que já estou cheio de tanto paraíso”, diz o fugitivo preso no engarrafamento. No fim, resta mesmo dançar uma valsa – até porque talvez não reste alternativa, como deixa claro esse belo romance de um grande escritor acima de qualquer suspeita.